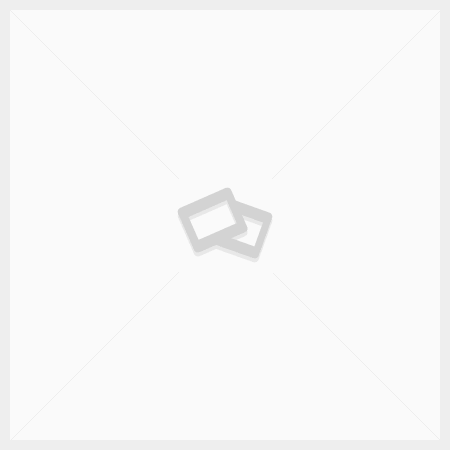
JOTA – Do orelhão à banda larga: desmistificando o PL 79/2016

Do orelhão à banda larga: desmistificando o PL 79/2016
Trata-se, assim, de uma modificação legislativa necessária e bem vinda, em um momento em que uma nova rodada de investimentos em telecomunicações é absolutamente fundamental – seja pela rápida transformação tecnológica que deslocou as prioridades da telefonia fixa para a banda larga, seja pela perspectiva de aumento exponencial da demanda (por exemplo, com a conexão massiva de dispositivos pela Internet das Coisas- “IoT”), seja pelas externalidades positivas que podem ser geradas pelo setor de telecomunicações para a economia como um todo.
No entanto, o Projeto de Lei nº 79/2016 tem sofrido várias críticas em relação ao seu mérito, que devem ser devidamente ponderadas para que não se perca uma oportunidade valiosa de alterar um modelo que, em que pese ter proporcionado ampliação do acesso às telecomunicações em geral, já está exaurido. De fato, mesmo os mais críticos ao PL, tendem a concordar que o contexto da edição da LGT, um símbolo de modernidade, se alterou profundamente, tornando anacrônicas diversas de suas disposições. No entanto, o tom apocalíptico de algumas críticas à proposta legislativa parece ignorar que, sem modificação, permaneceremos presos ao modelo atual, o que não traz qualquer benefício para a sociedade.
Nesse contexto, no espírito de contribuir para o debate, teceremos breves comentários, sem qualquer pretensão de exaurir a discussão, acerca dos três aspectos centrais na discussão em curso: (i) adaptação das atuais concessões para autorizações; (ii) extinção do regime de reversibilidade de bens; e (iii) modificação do regime de autorização do direito de uso de radiofrequência para permitir renovações sucessivas.
Adaptação das atuais concessões para autorizações
Uma primeira crítica reside na adaptação das atuais concessões de telefonia fixa (STFC) para autorizações. Argumenta-se que haveria a necessidade de manter, ainda que de forma reduzida, a exploração do serviço em regime público (i.e. executado por meio de concessões), por disposição constitucional (art. 21, XI). No entanto, esta é uma leitura muito peculiar da Constituição que não resiste a uma análise mais detida.
Sob a ótica constitucional, não há um dispositivo sequer que sustente a interpretação que obrigue a adoção do regime de concessões previsto no art. 175 da Carta Magna. A atribuição da competência para a exploração desses serviços pela União é acompanhada da possibilidade de selecionar a melhor forma de fazê-lo (ou permiti-lo) – seja por meio de concessão, permissão ou autorização, como cita o art. 21, XI, da Constituição. Aliás, o próprio uso da conjunção “ou” no referido dispositivo constitucional deixa claro que o Estado pode lançar mão de qualquer dos regimes para viabilizar a exploração da atividade.
No atual contexto de mercado, um modelo de concessões carregado de obrigações deficitárias encontra sérios problemas para se manter ao longo do tempo, dada a intensa competição com prestadores do serviço em regime privado – tanto fixos quanto móveis – o que gerou o problema de sustentabilidade do modelo, já reconhecido pela própria Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”). De fato, a massificação do serviço de telecomunicações foi efetivamente proporcionada pelo Serviço Móvel Pessoal, explorado em regime privado, sob o regime do art. 170, parágrafo único, da Constituição. Atualmente, para cada aparelho fixo em atividade, temos cerca de 7 aparelhos móveis, e esse número não para de crescer.
Assim, se o atual contexto não é compatível com um regime de concessões, não há sentido em obrigar o Estado a utilizar esse modelo, em qualquer extensão, apenas para obrigar o cumprimento de uma suposta formalidade. Inclusive, essa é a leitura mais adequada à luz do caráter subsidiário dos serviços públicos em relação às atividades sujeitas à livre iniciativa. Vale dizer, sempre que houver a flexibilidade para opção de regimes no plano constitucional, como ocorre no caso das telecomunicações, o dever-poder do estado para prestar um determinado serviço no regime público deve ser utilizado de forma subsidiária, conforme a necessidade e adequação para atingir as finalidades públicas perseguidas em cada momento da história.
Nesse contexto, inexiste fundamento jurídico para as críticas ao Projeto de Lei nº 79/2016. A Constituição permite claramente a opção entre modelos de regime público ou privado em telecomunicações e, na medida em que as concessões não se mostram mais adequadas para perseguir um objetivo público, é perfeitamente possível a opção legislativa pelo regime privado das autorizações. O modelo de concessões desempenhou um papel importante no momento da privatização nos anos 90 e início dos anos 2000, mas sua manutenção gera um entrave ao setor de telecomunicações o que impõe sua imediata revisão.
Extinção do regime de reversibilidade de bens
As críticas em relação ao segundo ponto podem ser sumarizadas em uma expressão repetida à exaustão na tentativa de desqualificar o projeto: a extinção do regime de reversibilidade dos bens seria um “presente” para as concessionárias de telecomunicações, representado pela transferência de patrimônio público estimado em “R$ 100 bilhões de reais” – dado referente ao custo de aquisição dos bens, levantado pelo Tribunal de Contas da União em decisão de 2015, com dados do ano de 2013 (vide Acórdãos 3311/2015 e 1809/2016). A repetição contínua desse discurso não permite uma discussão séria sobre o tema e, assim, impede que sejam expostas as inúmeras impropriedades que estão por detrás dele – e que procuraremos abordar brevemente aqui.
Inicialmente, não se pode deixar de lado a delimitação do regime específico da reversão de bens no setor de telecomunicações. O instituto da reversibilidade dos bens afetados à exploração do serviço público tem por objetivo, em síntese, garantir a sua continuidade quando da extinção do contrato de concessão. É largamente utilizado em vários setores e foi também incorporado como uma possibilidade pela Lei Geral de Telecomunicações como um elemento contratual (art. 93, XI).
Ou seja, a legislação expressamente previu que as concessões não demandariam, necessariamente, a adoção de um regime de reversão – justamente por atentar para uma das características mais marcantes do setor, que é inovação tecnológica constante. Criar um regime de reversão obrigatório significaria potencialmente, incorporar, ao final da concessão, bens tecnologicamente defasados, o que certamente não atende a interesse público algum. Por essa razão, o regime de reversibilidade legalmente previsto na Lei Geral de Telecomunicações é de adoção facultativa, abrindo clara margem para que o Poder Público escolha a forma mais adequada de garantir a continuidade da prestação de serviços.
Além de a adoção ser facultativa, o escopo da reversão também é específico, focado na posse dos bens (art. 102 da LGT). Essa opção também foi adotada de forma consciente, considerando uma característica relevante do setor: o emprego dos chamados bens multisserviço. Um mesmo bem pode ser utilizado para explorar serviços de banda larga (sujeitos a regime privado) e telefonia fixa (sujeitos a regime público na área das concessões). É o que ocorre, por exemplo, com os cabos de fibra ótica, que trafegam dados de diversos serviços.
Dado que o instituto da reversão incide apenas sobre os serviços explorados sob regime público, a única forma de viabilizá-la em relação aos bens multisserviço é através da reversão da posse. O uso da parcela indispensável à continuidade do serviço público do bem multisserviço seria viabilizado por alguma forma de arranjo contratual – seja um contrato de compartilhamento de infraestrutura, seja por meio de usufruto. Arranjo este que nunca ficou esclarecido na regulamentação do setor.
Assim, o objeto da reversão seria apenas a capacidade necessária para suportar a exploração do serviço por uma nova concessionária ou diretamente pela União. O que não se pode conceber – e tem sido alegado nas críticas ao Projeto de Lei nº 79/2016 – é a existência de uma espécie de “toque de Midas”, que incorporaria ao acervo de bens reversíveis a integralidade da capacidade dos bens multisserviço, que fossem parcialmente utilizados pela telefonia fixa. Esse racional é equivocado por vários motivos.
A uma, isso significaria a incorporação de bens dispensáveis à continuidade do serviço público ao patrimônio da União, resultado que é incompatível com a própria finalidade do instituto da reversibilidade – que passaria a se confundir com uma verdadeira desapropriação de bens privados. A duas, ter-se-ia uma ampliação do próprio conceito do serviço público, diante da assunção de bens e, consequentemente, dos serviços que excedem o Serviço Telefônico Fixo Comutado – e que, atualmente, são os únicos passíveis de exploração em regime público. A três, estaríamos diante de uma solução em que o rabo abana o cachorro, pois bens utilizados lateralmente para o transporte de sinais do STFC poderiam ser considerados reversíveis. Vale notar que o próprio TCU, após provocação da ANATEL, reconheceu que os bens reversíveis só podem ser aqueles “indispensáveis” à prestação do serviço (vide Acórdão 1809/2016), corroborando o quanto aqui exposto.
De fato, o Projeto de Lei nº 79/2016 adota a solução mais adequada e alinhada tanto com a Lei Geral de Telecomunicações atual quanto com os contratos de concessão vigentes, ao estipular que (i) são bens reversíveis apenas e tão somente aqueles essenciais e efetivamente empregados no serviço concedido e (ii) a valoração dos bens multisserviço levará em conta apenas a parcela dedicada ao serviço público (cf. art. 68-C do referido Projeto). Nada mais lógico e correto dentro do regime atual do setor, sendo os argumentos em contrário uma demonstração do tipo de insensatez que afasta a segurança jurídica para novos investimentos em redes e serviços.
Ademais, procurou-se positivar um critério para a quantificação dos bens e deixar que a Agência Nacional de Telecomunicações o regulamente a aplique, em caso de extinção da reversibilidade. Ou seja, não há qualquer “presente” para as concessionárias, uma vez há previsão legal específica para valoração dos bens reversíveis e para a imposição de obrigações em valor equivalente. Isso sem adentrar no mérito do uso absolutamente indevido do custo de aquisição como critério para valoração dos bens – que simplesmente ignora a depreciação decorrente de seu uso. Tal critério se presta apenas a desinformar e impressionar a sociedade com cifras estratosféricas que não correspondem ao efetivo valor econômico desses bens atrelados a um serviço claramente em declínio.
Evidentemente, ao aplicar o critério de quantificação dos bens, a ANATEL deverá ter bastante cuidado para preservar o interesse público de forma equilibrada, calculando o valor das contrapartidas necessárias em função da extinção do instituto da reversão.
Conclui-se, assim, que o Projeto de Lei nº 79/2016 segue um caminho correto ao eliminar um fator de grande insegurança jurídica no setor de telecomunicações, provendo o órgão regulador setorial dos meios necessários para avançar sobre a extinção do regime de reversibilidade de bens. Deve-se consignar que a proposta de alteração legislativa, de fato, em nada altera o regime de reversibilidade aplicável ao setor de telecomunicações, apenas contribui para esclarecer a única forma possível de solucionar essa questão. As críticas quanto a esse ponto são, portanto, improcedentes.
Modificação do regime de autorização do direito de uso de radiofrequência
Por fim, o último aspecto que destacaremos diz respeito às alterações propostas no regime de autorização de direito de uso de radiofrequência, em especial: (i) suprimir o limite de prorrogações às autorizações; (ii) estabelecer a possibilidade de imposição de compromissos de abrangência em contrapartida à prorrogação, alternativamente ao pagamento, em todo ou em parte do valor de outorga, sempre que houver renovação da autorização; e (iii) criar um “mercado secundário” para as referidas autorizações.
Nesse caso, as críticas apontam uma suposta inconstitucionalidade das prorrogações sucessivas, além de destacarem a concentração de mercado como resultado das modificações propostas. Afinal, as radiofrequências, qualificadas legalmente como bens públicos da União, são insumos necessários ao provimento dos serviços de telecomunicações e, portanto, segundo alguns críticos, seria impositiva a realização de leilões periódicos para sua alocação a particulares.
Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade da proposta. A outorga do direito de uso de radiofrequência não se confunde com a autorização para a exploração de serviço de telecomunicações. A primeira é acessória à segunda, e viabiliza o uso de um bem público federal.
E não há na Constituição disciplina específica para a alocação do direito de uso de radiofrequências, mesmo quando compreendida nessa qualidade de bem público federal. Mesmo buscando-se aplicar o regime geral previsto no art. 37, XXI, da Constituição, deve-se lembrar que: (i) alocação originária da radiofrequência permanece sendo realizada por licitação; (ii) o próprio dispositivo remete à legislação ordinária a possibilidade de estabelecer exceções ao dever de licitar – ainda que não se trate propriamente de uma hipótese de dispensa de licitação no caso concreto, posto que o certame ocorre; e (iii) não se extrai do referido dispositivo um regime jurídico único para as contratações estatais, observação que inclui a alocação do direito de uso de radiofrequência.
Vale notar que a possibilidade de prorrogação sucessiva também está fundamentada em uma constatação fática: os equipamentos dos usuários e das redes de cada operadora são ajustados para operar em uma determinada faixa de radiofrequência. Justamente porque as autorizações de direito de uso de radiofrequência e do serviço não se confundem, a expiração da primeira demandaria um grande esforço de migração.
Por essa razão, a dificuldade na realocação das faixas de radiofrequência permite uma analogia com outra situação de ocupação de uso de bem público: os terminais portuários de uso privado – que utilizam terrenos de marinha e o espelho d’água para suas atividades, ambos qualificados como bens públicos da União. Desnecessário mencionar que, uma vez instalados os terminais, a autorização de direito de uso dos bens públicos permanece pelo tempo que durar a exploração da atividade portuária. E a autorização para explorar o terminal privada é renovada de forma sucessiva, desde que cumpridos os requisitos legais.
As prorrogações do direito de uso de radiofrequência são onerosas e dependem da aferição quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas pelas empresas. Ou seja, os interessados em manter o direito de uso sobre as radiofrequências desembolsarão valores e se comprometerão com os investimentos a serem realizados. Também se afasta, aqui, o receio de que a receita gerada pelos leilões seja perdida pelo Estado. Pelo contrário, se bem aplicado, o mecanismo tende a fazer com que os recursos sejam efetivamente aplicados no setor de telecomunicações, ao contrário do que ocorre atualmente.
Importante consignar que essa nova forma de gestão do espectro radioelétrico não afasta outras prerrogativas já previstas (e utilizadas) pelo Estado. Por exemplo, mantém-se a possibilidade de realização do refarming, que consiste na realocação de uma faixa de radiofrequência para outra finalidade distinta da originalmente outorgada (art. 161 da Lei Geral de Telecomunicações). Isso ocorreu em relação às faixas de radiofrequências de 2,5 GHz e 700 MHz, originalmente destinadas, respectivamente, aos serviços de Serviço de Distribuição Multiponto Multicanal (MMDS) e radiodifusão e posteriormente realocadas para serviços que suportam banda larga (como Serviço Móvel Pessoal e Serviço de Comunicação Multimídia).
Por fim, resta afastar as preocupações com os efeitos no mercado decorrentes da aprovação do Projeto de Lei nº 79/2016. A ausência de leilões periódicos deve ser relativizada, considerando que, na prática, foram realizados por quase vinte anos e o mercado fundamentalmente manteve seus agentes. Ou seja, os grandes leilões de radiofrequência não são instrumentos essenciais para entrada de novos agentes. Na medida em que o espectro comporta apenas um número finito de agentes, uma nova licitação não tem o condão de fragmentar o mercado.
De fato, existem outros mecanismos que mitigam o risco de concentração de mercado, possivelmente com maior eficácia. Cite-se a possibilidade de qualquer empresa obter autorização para atuar como Mobile Virtual Network Operator (MVNO), que viabiliza a exploração do Serviço Móvel Pessoal sem a necessidade de uma autorização própria para o uso de radiofrequência.
Nesse caso, o acesso do novo entrante se dá pelo compartilhamento da infraestrutura (e das radiofrequências) detida pelas operadoras tradicionais. E a Agência Nacional de Telecomunicações possui várias regras para viabilizar esse tipo de compartilhamento – como é o caso do Plano Geral de Metas de Competição, atualmente em revisão.
A possibilidade de haver acumulação de radiofrequência também parece ser um risco pequeno. A Agência Nacional de Telecomunicações já estabelece limites de acumulação de espectro (spectrum caps) em sua regulamentação, não havendo sinal de que isso deixe de ser exigido. Além disso, o mercado secundário permite que as operadoras transfiram entre si – observando os limites estabelecidos – o direito de uso sobre as radiofrequências, segundo suas próprias estratégias comerciais.
Em última instância, não se pode deixar de lado a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que pode impor restrições a operações envolvendo empresas do setor (controle estrutural), além de analisar práticas anticoncorrenciais que eventualmente decorram da posse das radiofrequências (controle comportamental).
Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei nº 79/2016 representa uma opção legislativa legítima para a gestão do espectro radioelétrico brasileiro, com potencial para melhorar a dinâmica de mercado – sem deixar de manter os mecanismos de controle já previstos na Lei Geral de Telecomunicações.
Conclusão
As críticas ao Projeto de Lei nº 79/2016 estão mais vinculadas a concepções ideológicas, do que propriamente uma fundamentação jurídica que obste a sua aprovação. A situação se torna ainda mais curiosa quando a alternativa fática é manutenção do modelo atual, ainda centrado na telefonia fixa e que ainda estabelece como um dos centros da política pública a instalação e manutenção de Telefones de Uso Público – os orelhões. Não é razoável sustentar esse modelo quando há uma forte demanda por acesso à banda larga, aliada a uma carência de investimentos no setor, em muito provocada pela insegurança jurídica quanto às atuais concessões.
Em conjunto com outras iniciativas, notadamente aquelas destinadas a esclarecer a possibilidade de uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) – como o substitutivo ao Projeto de Lei nº 7406/2014 –, há um grande potencial de o setor atraia investimentos e evolua rapidamente, em linha com a demanda da Sociedade. É necessário, portanto, que sejam adotadas as medidas necessárias para que a lei decorrente do Projeto de Lei nº 79/2016 passe a vigorar o mais rápido possível.
Caio Mario S. Pereira Neto – professor de Direito Econômico da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP). Sócio de Pereira Neto, Macedo Advogados
Mateus Piva Adami – professor do programa de pós-graduação lato sensu da FGV Direito SP (GVlaw). Sócio de Pereira Neto, Macedo Advogados
Os artigos publicados pelo JOTA não refletem necessariamente a opinião do site. Os textos buscam estimular o debate sobre temas importantes para o País, sempre prestigiando a pluralidade de ideias.

